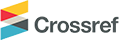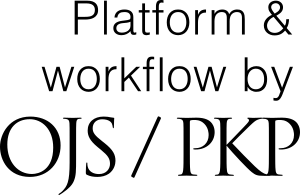Planejar práticas educativas em museus de arte: quatro pontos de partida
DOI:
https://doi.org/10.11606/issn.1980-4466.v18i35p69-94Palabras clave:
Educação em museus, Planejamento de museus, Educação artísticaResumen
Estudar planejamento na educação diz respeito, em um primeiro momento, a uma tríade básica de relações que se apresenta já na transitividade relativa do verbo ensinar: quem ensina, ensina algo a alguém. Além disso, há os métodos: é por meio deles que os sujeitos se aproximam dos conteúdos. No presente artigo, proponho pensarmos nesses elementos como os qua-tro aspectos básicos dos quais se pode partir para construir uma prática educativa em um museu de arte. A partir desses componentes simples busco, ao longo do texto, deflagrar um panorama mais complexo, em que características específicas de cada ambiente cultural podem vir a compor os matizes da educação praticada. Desenvolvo tais ideias por meio de exemplos do campo das práticas educativas em museus de arte, obtidos através de levantamento de estado da arte desenvolvido durante pesquisa de douto-rado. Do ponto de vista metodológico, trata-se, assim, de uma pesquisa teórica com levantamento bibliográfico. A investigação se encontra na intersecção entre os campos da semiótica, da comunicação e da educação, tendo especial relevância para minha abordagem ao tema os autores Amálio Pinheiro, François Laplantine, Iuri Lotman, Jesús Martín-Barbero, Paulo Freire e Richard Sennett.
Descargas
Referencias
ACASO, M. et al. Pedagogías Invisibles: el espacio del aula como discurso. Madrid: Catarata, 2012.
ALENCAR, V. P. de. O Mediador cultural: considerações sobre a formação e profissionalização de educadores de museus e exposições de arte. 2008. 97 f. Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, 2008. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/86980. Acesso em: 4 nov. 2021.
BARBIERI, S. Tempo de experiência. In: TOZZI, Devanil (Org.). Horizontes culturais: lugares de aprender. São Paulo: FDE, 2008. p. 51-66. Disponível em: http://www.stelabarbieri.com.br/edu/pub/horizontes.pdf. Acesso em: 23 mar. 2021.
BARBOSA, A. M. Entre memória e história. In: BARBOSA, A. M. (Org.). Ensino da arte: memória e história. São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 1-26.
BARBOSA, A. M. John Dewey e o ensino de arte no Brasil. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2015.
CARVAJAL, L. H. Con Ojos de Educadora: el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. In: MASACHS, Roser Calaf; SUÁREZ, Miguel Ángel Suárez. Acción Educativa en Museos: su calidad desde la evaluación cualitativa. Gijón: Trea, 2016. p. 263-278.
CASTRO, F. S. R. de. Construindo o campo da Educação Museal: um passeio pelas políticas públi-cas de museus no Brasil e em Portugal. 275 f. 2018. Tese (Doutorado em Educação) -- Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. Disponível em: https://shre.ink/28ct. Acesso em: 3 maio 2022.
DESVALLÉES, A.; MAIRESSE, F. (Ed.). Conceitos-chave de Museologia. Tradução e comentários de Bruno Brulon Soares e Marília Xavier Cury. São Paulo: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus; Pinacoteca do Estado de São Paulo; Secretaria de Estado da Cultura, 2013.
EDUCATHYSSEN. Professores y Estudiantes / ¿Sientes el Ritmo? Site do Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 2021. Disponível em: https://www.educathyssen.org/profesores-estudian-tes/sientes-ritmo. Acesso em: 19 nov. 2021.
ESPAÑA. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memória Democrática. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. «BOE» núm. 52, de 1 de marzo de 2014, páginas 19349 a 19420. 72 p. Disponível em: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A- 2014-2222. Acesso em: 19 nov. 2021.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção leitura)
FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 28. ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.
LIMA, R. G. G. R. de. Curadoria e educação: a Ciência da Informação como abordagem para construção de uma prática dialógica. 2017. 154 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: https://repositorio.unb. br/handle/10482/31174. Acesso em: 19 out. 2021.
LOTMAN, I. M. La memoria a la luz de la culturología. In: LOTMAN, I. M. La Semiosfera I: semiótica de la cultura y del texto. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996a. p. 109-111.
MARTÍN-BARBERO, J. A Comunicação na educação. Tradução de Maria Immacolata Vassallo de Lopes e Dafne Melo. São Paulo: Contexto, 2014.
MARTINS, L. C. A Constituição da educação em museus: o funcionamento do dispositivo pedagógico museal por meio de um estudo comparativo entre museus de artes plásticas, ciências humanas e ciência e tecnologia. 2011. 390 f. Tese. Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://shre.ink/28Vn. Acesso em: 18 out. 2021.
MINERINI NETO, J. Educação nas bienais de arte de São Paulo: dos cursos do MAM ao educativo permanente. 2014. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
OLIEVENSTEIN, C.; LAPLANTINE, F. Um olhar francês sobre São Paulo. Tradução de Maria Carneiro da Cunha. São Paulo: Brasiliense, 1993.
PINHEIRO, A. América Latina: barroco, cidade, jornal. São Paulo: Intermeios, 2013.
PINHEIRO, A. A condição mestiça. Pasquinagem, n. 10, p. 8-23, São Paulo, set. 2020.
PINHEIRO, A. Notas sobre conhecimento e mestiçagem na América Latina. Repertório: teatro & dança, p. 9-12, ano 13, n. 14, Salvador, 2010.
SALGADO, A. A. A. de O. Oralidade e visualidade nos planejamentos de educadores: um estudo sobre criação a partir dos arquivos de práticas educativas de museus e centros culturais de arte. 2022. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30872. Acesso em: 14 mai. 2023.
SALLES, C. A. Redes da criação: construção da obra de arte. 2. ed. Vinhedo: Horizonte, 2014.
SANTOS, N. A. C. Arte contemporânea: cartografias das narrativas poéticas com crianças e adultos na escola e no museu. 2018. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.
SENNETT, R. O artífice. Tradução de Clóvis Marques. 9. ed. Rio de Janeiro: Record, 2020.
SILVA, A. Monitores para o “Museu de Arte”. O Cruzeiro, São Paulo, ed. 0048, p. 55-58, 20 set. 1947. Disponível em: https://shre.ink/28in. Acesso em: 19 nov. 2021.
SILVA, C. M. da. Mediador cultural: profissionalização e precarização das condições de trabalho. 2017. 199 f. Dissertação (Mestrado em Artes) – Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2017. Disponível em: https://shre.ink/28i3. Acesso em: 25 jan. 2022.
VERGARA, L. G. Curadoria educativa: percepção imaginativa/consciência do olhar. In: CERVETTO, R.; LÓPEZ, M. A. (org.). Agite antes de usar: deslocamentos educativos, sociais e artís-ticos na América Latina. Tradução de José Feres Sabino. São Paulo: Sesc São Paulo, 2018. p. 39-45.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2023 Ariane Alfonso Azambuja de Oliveira Salgado

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
- Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
- Os autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
- Os autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho on-line (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).