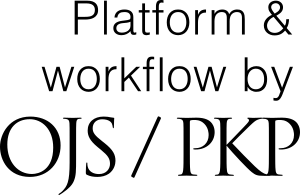Os fenômenos transicionais de Winnicott como conceito operador metodológico para a pesquisa psicanalítica
DOI:
https://doi.org/10.1590/0103-6564e210063Palavras-chave:
pesquisa psicanalítica, metodologia, fenômenos transicionais, WinnicottResumo
Este artigo tem como objetivo discutir metodologicamente no campo da pesquisa psicanalítica o lugar do pesquisador na relação com seu objeto de pesquisa. O conceito de fenômenos transicionais de Donald Woods Winnicott foi proposto como operador metodológico para um olhar sobre o pesquisar, sustentando a dimensão do encontro singular entre pesquisador e objeto como produção de conhecimento que se faz justamente entre posições. Entendemos a importância de se debruçar sobre o método na pesquisa psicanalítica e de discutir uma relação entre pesquisador e objeto, reconhecendo a potência da pesquisa como uma produção conjunta que, ao mesmo tempo em que se constrói no encontro, resguarda as diferenças de ambas as posições e materialidades envolvidas.
Downloads
Referências
Avellar, L. Z. (2009). A pesquisa em psicologia clínica: Reflexões a partir da leitura da obra de Winnicott. Contextos Clínicos, 2(1), 11-17. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-34822009000100002
Da Rosa, D. J., & Ferrari, A. G. (2020). A metodologia do entre, o educador e a assessoria na prevenção do autismo. Educação, 43(3), e32459. https://doi.org/10.15448/1981-2582.2020.3.32459
Diniz, M. (2011). O método clínico e sua utilização na pesquisa. Revista Espaço Acadêmico, 10(120), 9-21. Recuperado de https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/13029
Dunker, C. I. L., Voltolini, R., & Jerusalinsky, A. N. (2008). Metodologia de pesquisa e psicanálise. In R. Lerner & M. C. M. Kupfer (Orgs.), Psicanálise com Crianças: Clínica e pesquisa (Vol. 1, pp. 63-92). São Paulo, SP: Escuta.
Dunker, C. I. L., & Ravanello, T. (2019). A Garrafa de Klein como Método para Construção de Casos Clínicos em Psicanálise. Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica, 22(1), 99-110. https://doi.org/10.1590/s1516-14982019001010
Caon, J. L. (1997). Serendipidade e situação psicanalítica de pesquisa no contexto da apresentação psicanalítica de pacientes. Psicologia: Reflexão e Crítica, 10(1), 105-123. https://doi.org/10.1590/S0102-79721997000100008
Ferrari, A. G., Fernandes, P. P., Silva, M. da R., & Scapinello, M. (2017). A experiência com a Metodologia IRDI em creches: Pré-venir um sujeito. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 20(1), 17-33. https://doi.org/10.1590/1415-4714.2017v20n1p17.2
Fonteles, C. S. L., Coutinho, D. M. B., & Hoffmann, C. (2018). A pesquisa psicanalítica e suas relações com a universidade. Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica, 21(1), 138-148. https://doi.org/10.1590/1809-44142018001013
Gurski, R., & Strzykalski, S. (2018). A pesquisa em psicanálise e o catador de restos: Enlaces metodológicos. Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica, 21(3), 406-415. https://doi.org/10.1590/s1516-14982018003012
Iribarry, I. N. (2003). O que é pesquisa psicanalítica?. Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica, 6(1), 115-138. https://doi.org/10.1590/S1516-14982003000100007
Macedo, M. M. K., & Dockhorn, C. N. B. F. (2015). Psicanálise, Pesquisa e Universidade: labor da especificidade e do rigor. Perspectivas en Psicología, 12(2), 82-90. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483547667010
Mezan, R. (1998). Sobre a pesquisa em psicanálise. Psyché, 2(2), 87-97.
Mezan, R. (2002). Psicanálise e pós-graduação: Notas, exemplos, reflexões. In R. Mezan, Interfaces da psicanálise (pp. 395-435). São Paulo, SP: Companhia das Letras.
Queiroz, E. F., & Zanotti, S. V. (Orgs.). (2020). Metodologia de pesquisa em psicanálise. Porto Alegre, RS: Editora da UFRGS. Recuperado de https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/216892/001120941.pdf?sequence=1
Rodulfo, R. (2009a). Omnipotencia. In R. Rodulfo, Trabajos de la lectura, lecturas de la violencia: Lo creativo-lo destructivo en el pensamiento de Winnicott (pp. 37-55). Buenos Aires: Paidós.
Rodulfo, R. (2009b). Transición. In R. Rodulfo, Trabajos de la lectura, lecturas de la violencia: Lo creativo-lo destructivo en el pensamiento de Winnicott (pp. 73-86). Buenos Aires: Paidós.
Safra, G. (2001). Investigação em psicanálise na Universidade. Psicologia USP, 12(2), 171-175. https://doi.org/10.1590/S0103-65642001000200014
Santos, M. A. (1999). A constituição do mundo psíquico na concepção winnicottiana: uma contribuição à clínica das psicoses. Psicologia: Reflexão e Crítica, 12(3). https://doi.org/10.1590/S0102-79721999000300005
Silva, E. X. L. (2021). Quem conta um conto, acrescenta um conto: Contação de histórias e suplementaridade no processo de subjetivação de crianças (Dissertação de mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. Recuperado de https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/236146
Silva, M., & Ferrari, A. (2022). A experiência de acompanhamento de bebês em escolas de educação infantil através da Metodologia IRDI. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 73(3). https://doi.org/10.36482/1809-5267.ARBP2021v73i3p.172-188
Silva, M. R., Oliveira, B. C., & Ferrari, A. G. (2022). Da experiência ao relato clínico: Desafios do registro em uma pesquisa psicanalítica. Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica, 25(2), 31-38. https://doi.org/10.1590/1809-44142022-02-04
Silva, M. R., Medeiros, C. B., Arrosi, K. E., & Ferrari, A. G. (2021). “Que bom que ele havia estranhado”: considerações sobre a Metodologia. Psicologia Escolar E Educacional, 25, e226338. https://doi.org/10.1590/2175-35392021226338
Stanchi, D. F. (2014). A materialidade como evento poético: um estudo hermenêutico a partir do caso Piggle de D. W. Winnicott (Dissertação de mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-11122014-112723/pt-br.php
Voltolini, R., & Gurski, R. (Orgs.). (2020). Retratos da pesquisa em Psicanálise e Educação. São Paulo, SP: Contracorrente.
Wieczorek, R. T., Kessler, C. H., & Dunker, C. I. L. (2020). O (f)ato clínico como ferramenta metodológica para a pesquisa clínica em psicanálise. Tempo Psicanalítico, 52(2), 185-213. Recuperado de https://www.tempopsicanalitico.com.br/index.php/tempo_psicanalitico/article/view/467
Wiles, J. M., & Ferrari, A. G. (2020). Do cuidado com o bebê ao cuidado com o educador. Psicologia Escolar E Educacional, 24, e213976. https://doi.org/10.1590/2175-35392020213976
Winnicott, D. W. (1975). O brincar e a realidade. Rio de Janeiro, RJ: Imago.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Direitos autorais (c) 2024 Psicologia USP

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Todo o conteúdo de Psicologia USP está licenciado sob uma Licença Creative Commons BY-NC, exceto onde identificado diferentemente.
A aprovação dos textos para publicação implica a cessão imediata e sem ônus dos direitos de publicação para a revista Psicologia USP, que terá a exclusividade de publicá-los primeiramente.
A revista incentiva autores a divulgarem os pdfs com a versão final de seus artigos em seus sites pessoais e institucionais, desde que estes sejam sem fins lucrativos e/ou comerciais, mencionando a publicação original em Psicologia USP.