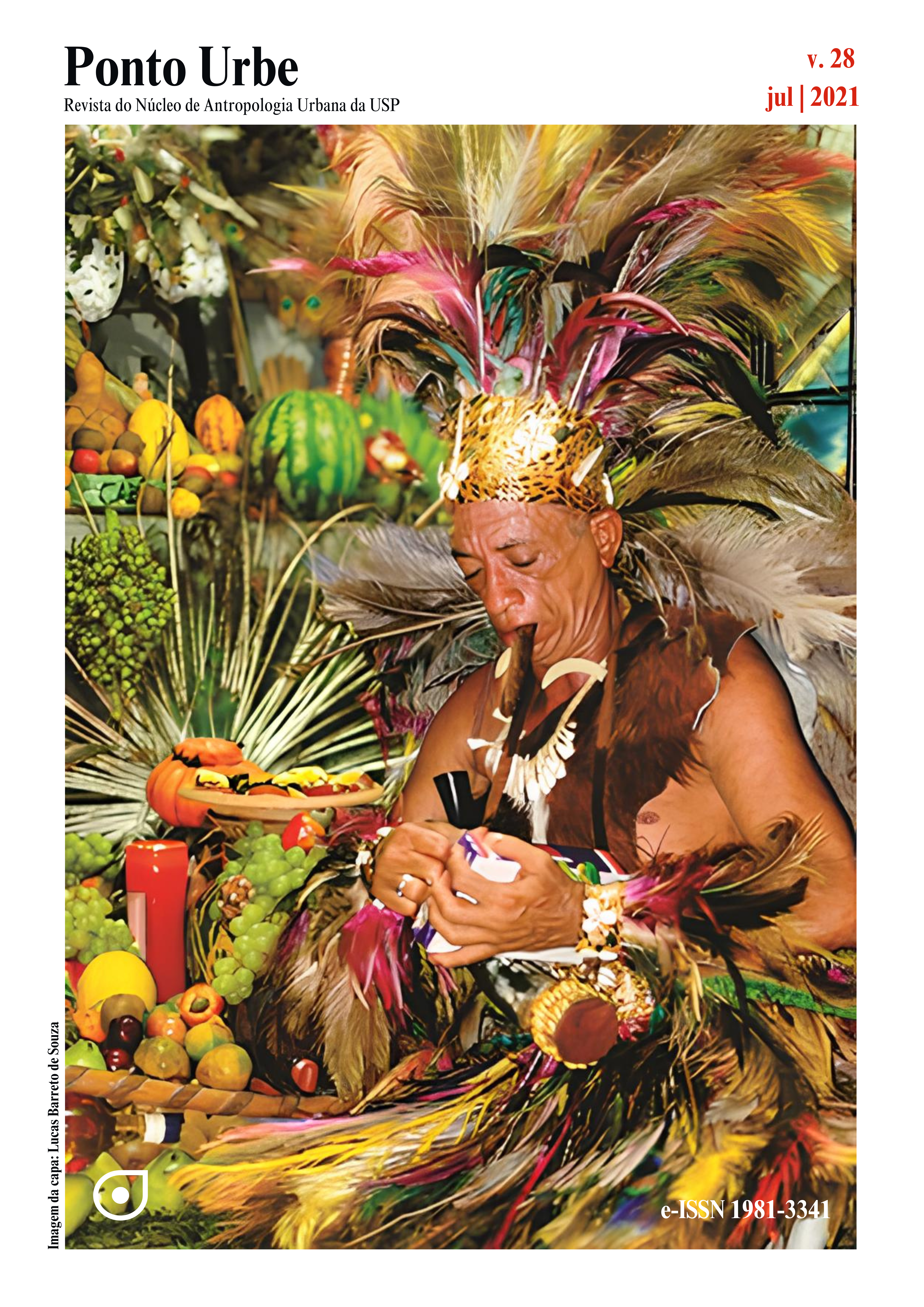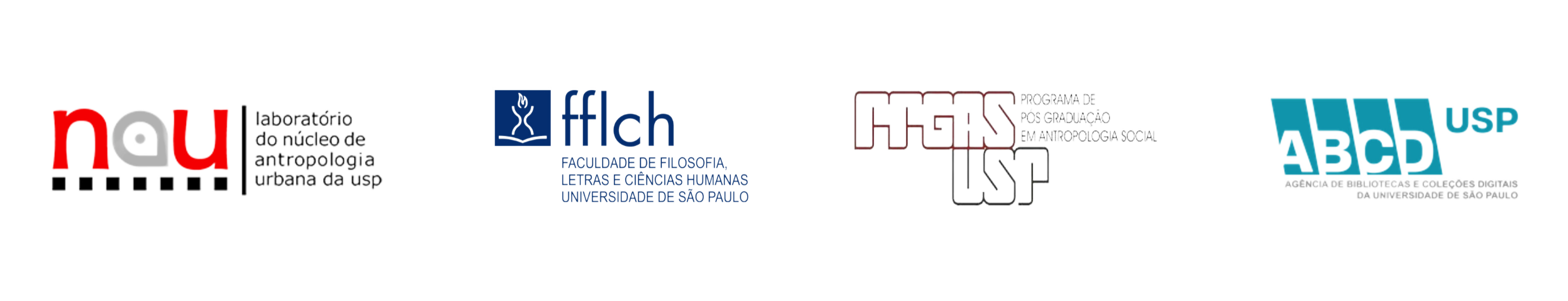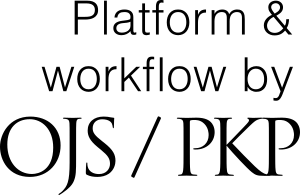Etnografia é observação participante? Trabalhando com um método constitutivamente heterodoxo
DOI:
https://doi.org/10.4000/pontourbe.10089Palavras-chave:
Metodologia, Etnografia, Observação participante, Resistência ao futebol moderno, TerenaResumo
O artigo consiste numa breve reflexão metodológica orientada pela pergunta que vai no título. Motivado pela crescente utilização dos procedimentos clássicos da pesquisa antropológica noutras áreas do conhecimento acadêmico e não acadêmico, o texto esboça uma resposta à questão, desenhando uma imagem pontual do fazer etnográfico e buscando, com isso, abrir algumas sendas de compreensão dele para não especialistas ou iniciantes. A construção argumentativa está dividida em duas partes: primeiro, o delineamento de noções de observação participante e etnografia através da comparação entre um tipo ideal de manual de Ciências Sociais e alguns conhecidos tratados metodológicos da Antropologia; segundo, a exploração de algumas consequências dessa definição conceitual em duas experiências de campo: no estádio do Juventus da Mooca e numa aldeia terena.
Downloads
Referências
ALMEIDA, Mauro William Barbosa de. 2003. “Relativismo antropológico e objetividade etnográfica”. Campos – Revista de Antropologia Social, n. 3: 9-30.
AZANHA, Gilberto. 2005. “As terras indígenas Terena no Mato Grosso do Sul”. Revista de Estudos e Pesquisas – FUNAI, v.2, n.1: 61-111.
BATISTA, Enoque. 2006. “Fazendo pesquisa com meu povo”. Revista Tellus, ano 6, n. 10: 139-142.
BITTENCOURT, Circe Maria & LADEIRA, Maria Elisa. 2000. A história do povo Terena. Brasília:
Ministério da Educação (MEC).
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 2002. O Diário e Suas Margens: Viagens aos Territórios Terena e Ticuna. Brasília: Editora UNB.
DI FELICE, Massimo. 2012. “Redes Sociais Digitais, epistemologias reticulares e a crise do antropomorfismo social”. Revista USP, v. 22: 06-19.
ECO, Umberto. 2019 [1983]. Pós-escrito a O Nome da Rosa. Rio de Janeiro: Editora Record.
ELOY AMADO, Luiz Henrique. 2019. Vukápanavo. O despertar do povo terena para os seus direitos: movimento indígena e confronto político. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado em Antropologia Social, Museu Nacional, UFRJ.
EVANS-PRITCHARD. Edward E. 2005 [1976]. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
FRANCISCO, Camila Rodrigues. 2019. Trajetórias em diáspora: a experiência de universitárias haitianas de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Dissertação de mestrado em Psicologia Social, UFMG.
FRANCO, Patrik Thames. 2011. Os Terena, seus antropólogos e seus outros. Brasília: Dissertação de mestrado em Antropologia Social, UnB.
GALLOIS, Dominique Tilkin. 2014. “Dois filmes e uma tradição: sertanistas defendendo a vida dos índios”. PROA – Revista de Antropologia e Arte, volume 01, n. 04.
GEERTZ, Clifford. 1989. “Uma Descrição Densa: Por uma Teoria Interpretativa da Cultura”. In: C. Geertz, A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, pp. 13-41.
_______________. 1997 [1983]. “‘O ponto de vista dos nativos’: a natureza do saber antropológico”. In: C. Geertz, O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis: Vozes, pp. 85-107.
GOLDMAN, Marcio. 2003. “Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia e política em Ilhéus, Bahia”. Revista de Antropologia, 46(2): 445-476.
__________________. 2006. “Alteridade e experiência: antropologia e experiência etnográfica”. Etnográfica, X(1): 161-173.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2010. Censo Demográfico 2010: características gerais dos indígenas – resultados do universo. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Governo Federal.
INGOLD, Tim. 2011. “Anthropology is not ethnography”. In: T. Ingold, Being Alive. Londres: Routledge, pp. 229-243.
KÚPER, Adam. 2002. Cultura: a visão dos antropólogos. Bauru: Edusc.
KUWAYAMA, Takami. 2003. “‘Natives’ as Dialogic Partners: Some Thoughts on Native Anthropology”. Anthropology Today, v. 19, n. 1: 8-13.
LADEIRA, Maria Elisa. 2001. Língua e História: Análise Sociolinguística em um Grupo Terena. São Paulo: Tese de doutorado em Semiótica e Linguística Geral, USP.
LATOUR, Bruno. 2006. “Como terminar uma tese de sociologia: pequeno diálogo entre um aluno e seu professor (um tanto socrático)”. Cadernos de Campo, n. 15: 339-352.
LOPES, Felipe Tavares Paes, & HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. 2018. “‘Ódio eterno ao futebol moderno’: poder, dominação e resistência nas arquibancadas dos estádios da cidade de São Paulo”. Tempo, v. 24, n.2: 206-232.
MAGNANI, José Guilherme. 2002. “De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 17, n. 49, p. 11-29.
_______________________. 2009. “Etnografia como prática e experiência”. Horizontes Antropológicos, n. 15 (32): 129-156.
MALINOWSKI, Bronislaw. 1978 [1922]. Argonautas do pacífico ocidental. São Paulo: Abril Cultural.
MARRAS, Stelio. 2006. “Como não terminar uma tese: pequeno diálogo entre o estudante e seus colegas (after hours)”. Cadernos de Campo, n. 15: 353-369.
MERLEAU-PONTY, Maurice. 1991 [1960]. “De Mauss a Claude Lévi-Strauss”. In: M. Merleau-Ponty, Signos. São Paulo: Martins Fontes, pp. 123-135.
MOURATA, Louise. 1979. “Indigenous Anthropology in Papua New Guinea”. Current Anthropology, n. 20(3): 561-576.
NARAYAN, Kirin. 1993. “How Native Is a ‘Native’ Anthropologist?”. American Anthropology, New Series, vol. 95, n. 3: 671-686.
PEIRANO, Mariza. 1992. “A favor da Etnografia”, Série Antropologia 130, Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Antropologia.
________________. 2006. A teoria vivida e outros ensaios de antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
PEREIRA, Levi Marques. 2009. Os Terenas de Buriti: Formas organizacionais, territorialização e representação da identidade étnica. Dourados: Editora UFGD.
SANTOS, Augusto Ventura dos. 2016. Políticas Afirmativas no Ensino Superior: estudo etnográfico de experiências indígenas em universidades do Mato Grosso do Sul (Terena e Kaiowá-Guarani). São Paulo: Dissertação de mestrado em Antropologia Social, USP.
SEVERI, Carlo. 2013. “O espaço quimérico: percepção e projeção nos atos do olhar”. In: C. Severi e E. Lagrou (orgs.), Quimeras em Diálogo: Grafismo e Figuração nas Artes Indígenas. Rio de Janeiro: 7 Letras, pp. 25-66.
STRATHERN, Marilyn. 1987. “The limits of auto-anthropology”. In: A. Jackson (org.), Anthropology at Home, pp. 16-37.
TUHIWEI SMITH, Linda. 1999. Issues in indigenous research: Decolonizing methodologies research and indigenous people. Londres e Nova York: Zed Books.
WAGNER, Roy. 2010 [1981]. A Invenção da Cultura. São Paulo: Cosac Naify.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2002. “O nativo relativo”. Mana. Estudos de Antropologia Social, 8 (1):113-148.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2021 Augusto Ventura dos Santos

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.